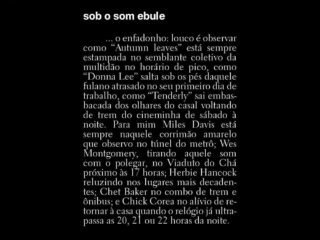Café preto, requintado, sem açúcar; fones no volume recomendado, pouco sujos de cera de ouvido. Coltrane, o maquinista, parte numa viagem louca pelo improviso, ameaçando a batera e o baixo, atritos da cadência; o piano solta acordes em pequenos intervalos para aliviar a tensão do movimento principal — agora acho que coloquei açúcar demais. É óbvio que não sei porra nenhuma de música e menos ainda de instrumentos musicais. Verdade é que até sei fazer uns acordes (acho até impressionável saber umas posições de diminutos, nonas etc.), algumas escalas, mas não conheço realmente qualquer teoria musical. Só sei que dois e dois são quatro e soa bem ao ouvido, e que cinco já é uma blue note que deve ser usada com cautela. Por isso não manjo de jazz. Entretanto, por qualquer razão que só Hume poderia tentar explicar, o gênero sempre me remete a um cafezinho bem quente, gosto de tom marrom — Hume apostaria todas suas fichas de empirismo no ressaibo amargo e melancólico de ambos, mas não estou certo disso, nem de serem a causa aqueles filmes americanos em que sempre há cenas de algum maluco tomando café próximo a um toca-disco —, embora a imagem de concreto e o cheirinho de óleo de motor reproduzam a experiência mais viva dessa minha idiossincrasia musical. É louco pensar que para muitos o único momento de jazz é aquele jingle quebrado da linha 4-amarela do metrô, para outros sobra tempo pra escutar um Miles Davis no spotify, ou algum quarteto num rolê na Vila Madalena no final de semana. De qualquer forma, a vibe é perceber os improvisos nos espaços mesmo com a cadência maquinal do cotidiano, esse jogo entre afastamento e repouso que sempre pede pela tensão dissimular o enfadonho: louco é observar como “Autumn leaves” está sempre estampada no semblante coletivo da multidão no horário de pico, como “Donna Lee” salta sob os pés daquele fulano atrasado no seu primeiro dia de trabalho, como “Tenderly” sai embasbacada dos olhares do casal voltando de trem do cineminha de sábado à noite. Para mim Miles Davis está sempre naquele corrimão amarelo que observo no túnel do metrô; Wes Montgomery, tirando aquele som com o polegar, no Viaduto do Chá próximo às 17 horas; Herbie Hancock reluzindo nos lugares mais decadentes; Chet Baker no combo de trem e ônibus; e Chick Corea no alívio de retornar à casa quando o relógio já ultrapassa as 20, 21 ou 22 horas da noite. Agora nessa coda (de volta ao repouso do meu café) começo a acreditar que isso tudo é tão pequeno, tão diminuto que poderia caber numa nota soada por Parker e ainda sobraria uma pausa, pois talvez o jazz seja uma tessitura maior que não me permite a deslindar.
Bruno Renan, estudante de Letras na Universidade de São Paulo. É desenhista amador e péssimo praticante de basquetebol. Gosta de escrever nas horas vagas e planeja transformar seus textos em quadrinhos e zines.